A Base Nacional que precisamos e queremos
O ano de 2018 pode ser um marco para a Educação, além de ser politicamente decisivo, pois é quando elegeremos as novas gestões públicas.
Iniciaremos a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas de Educação Infantil e Fundamental de todo País e finalizaremos a BNCC do Ensino Médio. Se bem feita, a base poderá dar novos e mais efetivos contornos às demais políticas educacionais, similares a de livros didáticos, avaliações e programas como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Como resultado, precisamos buscar obstinadamente mais qualidade e mais equidade quanto aos direitos de aprendizagem dos alunos de um País tão diverso e extenso quanto o Brasil.
Os dados educacionais entre os diferentes segmentos brasileiros atestam essa necessidade. No 9º ano do Ensino Fundamental, a aprendizagem adequada de matemática dos alunos mais ricos é 22 vezes maior que o desempenho dos estudantes mais pobres. Desigualdade semelhante verifica-se entre as regiões do país: enquanto a aprendizagem adequada na disciplina é de 22,8% no Sudeste, nas escolas do Nordeste é de apenas 10%.
Há de se levar em consideração, portanto, que entre o que o texto determinará e o que de fato chegará às salas de aulas estão 2 milhões de professores, 186 mil escolas e 49 milhões de alunos. Um desafio esperado, lógico e que não é apenas nosso. Os Estados Unidos da América, onde há grande extensão geográfica, redes escolares numerosas e regiões administrativas autônomas, estão às voltas com a questão, mesmo após 7 anos de implementação. O país tem enfrentado resistência e dificuldades para que algumas redes de ensino adotem o chamado “núcleo comum”.
Por aqui, a elaboração da BNCC tem sido extensivamente debatida ao longo destes 3 anos, com dezenas de audiências públicas, 3 versões de texto (e aguardando a 4ª versão do Conselho Nacional de Educação (CNE)) e contribuições por consultas públicas. O desafio, portanto, é dar um formato final a toda essa diversidade de contribuições e visões, com excelência técnica, criando um documento robusto, flexível às diferentes realidades e que induza a modernizações pedagógicas. Isto é, não uma colcha de retalhos que apenas responda às mais variadas demandas. Se o único objetivo de uma base nacional fosse atender apenas ao que os grupos mais organizados pedem, o melhor seria deixar algum algoritmo calcular a frequência de pedidos e construir um documento. O processo, no entanto, é técnico, feito pelo CNE, para justamente arbitrar o que deve ou não entrar no documento final.
Explicitar ao que os alunos brasileiros têm direito e quais os insumos necessários para que isso ocorra é um passo que ainda precisa ser dado. No entanto, não serve qualquer base curricular. Precisamos de um documento que inverta a correnteza que arrasta os conteúdos escolares ao sabor das avaliações, uma tendência que favorece apenas os sistemas focados na virtualidade dos exames e não no ensino integral para a vida.
Outro motivo para insistir em uma arquitetura que preserve a flexibilidade e transversalidade são os próprios alunos. Em resposta a um mundo inovador que, cada vez mais, abandona as “caixinhas”, as crianças e os jovens estão também criando redes e construindo saberes transversais. A base curricular não deve encaixotá-los novamente, e sim organizar conteúdos, fluxos e competências articulados entre si e capazes de potencializar o desenvolvimento integral.
Esse é o grande objetivo da bem-sucedida base curricular australiana. Diferentemente dos EUA, a Austrália tem conseguido bons resultados com o documento implementado em 2012. A favor deles estão 20 anos de discussão sobre o tema e um sistema escolar menor que o brasileiro e o norte-americano, o que possibilitou mais ajustes e o preparo da rede e da sociedade para a apropriação do documento.
Ainda que o processo australiano tenha sido muito diferente do nosso, nós podemos aproveitar lições valiosas, como uma base curricular cujos objetivos do País para a Educação estejam calibrados com o que efetivamente se aprende na escola. Uma das críticas tecidas ao texto brasileiro é justamente o fato de os objetivos de aprendizagem de cada disciplina não traduzirem as competências transversais explicitadas na introdução do documento. Outro aspecto do caso da Austrália, no qual vale a pena inspirar-se, é a boa implementação – acompanhada do preparo dos professores, dos profissionais da Educação e da sociedade.
Esta semana é decisiva para o assunto, uma vez que o CNE deve votar sobre o documento. A espera é por um texto final claro, capaz de indicar o que todas crianças devem aprender, mas não engessado. Sem uma base que valorize a transversalidade entre as áreas do saber, flexível aos contextos de cada rede de ensino e aberta ao protagonismo dos professores, o Brasil caminhará para trás, para longe da escola do século 21 que precisamos, contrário à equidade que tanto sonhamos.







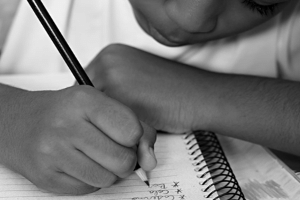







































Seja o primeiro a comentar
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.