Racismo é problema meu, seu, da escola - é de todos nós
Quem acompanhou as notícias vindas dos Estados Unidos no mês de agosto achou que se tratava do noticiário de meados do século passado, quando as imagens do movimento dos direitos civis dos negros lutando por igualdade ganharam o mundo. Apesar de a escravidão no país ter sido abolida em 1863, o racismo era institucionalizado de diversas maneiras. Um dos exemplos mais concretos disso eram os lugares separados para negros no transporte, no comércio e nos prédios públicos, segregando-os espacialmente nas cidades.
Mas tudo isso foi na década de 1960. Ideias de grupos como a Ku Klux Klan ficaram no passado... certo? Errado. O erro é exatamente esse: pensar que o racismo foi superado e que, vez ou outra, domina a mídia por conta de conflitos aparentemente pontuais, como vimos acontecer agora em Charlottesville, no estado da Virgínia. Confrontos em um protesto de supremacistas brancos – sim, supremacistas brancos em 2017! – deixaram diversos feridos e uma pessoa morta.
É chocante ouvir esses grupos declararem abertamente ódio contra negros, judeus, homossexuais, imigrantes e refugiados. É chocante porque nos dá a percepção de que a escravidão em diversos pontos do mundo não foi suficiente para entendermos a dimensão desse crime. É chocante porque entendemos que o genocídio de milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial também não bastou para finalmente enxergarmos o outro como igual. E também é chocante porque estamos vendo novamente discursos políticos e “oficiais”, por assim dizer, legitimarem ideias absurdas e asquerosas como as nazistas. Auschwitz, o campo de concentração localizado na Polônia, hoje é um museu que abre as portas para milhões de pessoas todos os anos. Não aprendemos nada?
Precisamos entender que o racismo sempre existiu e que pode infelizmente perdurar por muito mais tempo se as noções de igualdade e equidade não forem absorvidas por todos nós.
É o que o professor Daniel T. Willingham, do Departamento de Psicologia da Universidade da Virgínia (EUA), diz: “Estou certo de que não estamos vendo um ressurgimento do racismo, do antissemitismo e do chauvinismo, mas tendo um olhar mais realista sobre o que sempre esteve lá”. Ele mostra como a influência e a persuasão dos grupos de extrema-direita criam dúvidas sobre fatos concretos, sobrepondo “crenças pessoais” – como a ideia de que os brancos são superiores aos negros – a fatos históricos e até à ciência. Esses grupos negam a realidade para fazer valer o preconceito como meio de construir uma sociedade em que eles acreditam.
Assim, negam a desigualdade estrutural que se vê no mundo inteiro em relação a negros e brancos. Aqui no Brasil, exemplos não faltam – os dados estão em todas as esferas sociais. As áreas em que isso fica mais latente são a segurança pública e a educação.
Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, das 58.467 mortes violentas intencionais ocorridas no país em 2015, 54% ocorreram entre jovens de 15 a 24 anos. Desses, 73% eram pretos e pardos. Já de acordo com o Mapa da Violência 2016, que analisa os homicídios por armas de fogo no Brasil, somente em três estados (Tocantins, Acre e Paraná) os brancos morrem mais do que os negros em decorrência desse tipo de crime.
No acesso à educação, as diferenças também são gritantes. Quando observamos o percentual dos jovens de até 16 anos que conseguem concluir o Ensino Fundamental, as taxas são de 82,6% para os brancos e 66,4% para os negros. Já dentre o 1,7 milhão de jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola, 9,6% e 58,7% autodeclaram-se, respectivamente, pretos e pardos.
Tais percentuais são superiores à participação dos dois grupos na população geral dessa faixa etária: 8,3% e 50,4%, respectivamente. Não dá para dissociar os dados do parágrafo anterior desses, não? Também não dá para desassociar ambos dos dados socioeconômicos: segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), a média da renda familiar per capita da população parda e preta era um pouco superior à metade (55% e 56%, respectivamente) da renda dos brancos em 2014.
Precisamos de políticas públicas focalizadas que atendam a essas disparidades e as solucionem para garantir os direitos da população negra do Brasil. Ao mesmo tempo, precisamos que as famílias e as escolas trabalhem juntas para desconstruir preconceitos e mostrar que a naturalização dessas diferenças é errada. Mostrando a verdadeira história, instruímos nossas crianças e jovens a verem o mundo despido de discursos oportunistas e ideologicamente interessados.
Retomo o professor Daniel T. Willingham: precisamos fazer, por meio da educação, que as pessoas busquem evidências – e não opiniões e crenças alheias – com o objetivo de enxergar e construir um mundo de direitos iguais para todos, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil – seja em qualquer lugar.
E isso se aprende em casa, mas também na escola. É missão dos nossos educadores. Porque é na escola – ao sair das quatro paredes de casa – que a criança e o jovem vão, finalmente, ter contato com o novo, o diferente, o discordante, o diverso e a história. Como chegamos até aqui e por que as coisas são desse jeito? Precisamos ensiná-los. A resistência em aceitar que somos uma sociedade racista deve, sim, começar a ser desconstruída no ambiente escolar.
No Brasil, hoje, temos leis que designam que o ensino da história dos povos africanos e indígenas seja obrigatório nas nossas escolas, como é o caso das leis n° 10.639 e n° 11.645. Mas isso não é suficiente. Precisamos que histórias como a da professora Diva Guimarães, que emocionou a plateia da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano, sirvam como exemplo do que não podemos mais tolerar – como as cenas de Charlottesville.
Com a colaboração de Mariana Mandelli.








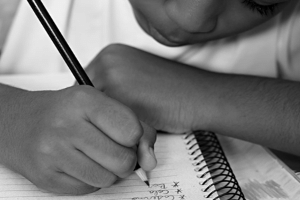







































Seja o primeiro a comentar
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.